Em razão de problemas técnicos junto à empresa de hospedagem, a plataforma OJS da revista encontra-se fora do ar. Nesse meio tempo, faça a submissão do seu material clicando aqui.
Todos os números de Novos Debates estão disponíveis aqui em nosso site.
NÚMERO ATUAL
v.9, n.2 – 2023
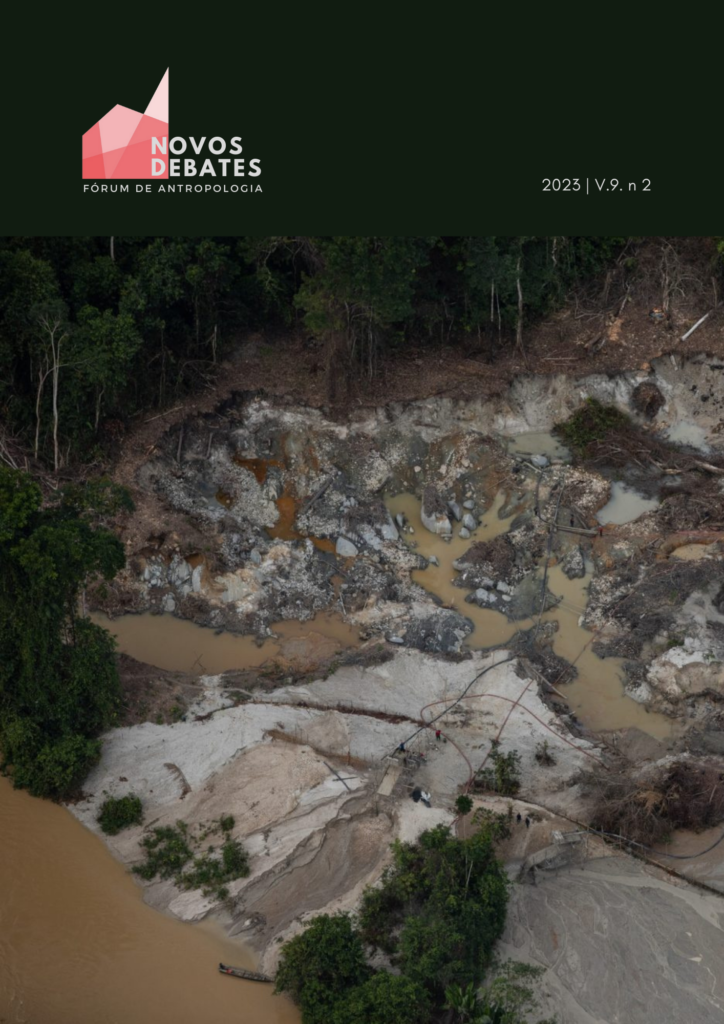
WEBINÁRIOS
Internacionalização da Antropologia em Tempos (Pós-)Pandêmicos
Convidados: Carmen Silvia Rial (UFSC-WCAA) Gustavo Lins Ribeiro (UAM – Lerma)
Moderadores: Vinicius Kauê Ferreira (UFRJ), Mariane Pisani (UFT)
Emoções e trabalho acadêmico durante a pandemia
Convidada: Maria Claudia Coelho (UERJ)
Moderadores: Vinicius Kauê Ferreira (UFRJ), Bruno Zilli (UERJ), Mariane Pisani (UFT)
Perspectivas globais sobre migrantes e refugiados durante a pandemia de COVID-19
Convidados: Handerson Joseph (UNIFAP), Leonardo Schiocchet (Academia Austríaca de Ciências)
Moderadores: Vinicius Kauê Ferreira (UFRJ) Livia Verena Cunha do Rosário (UEAP)
